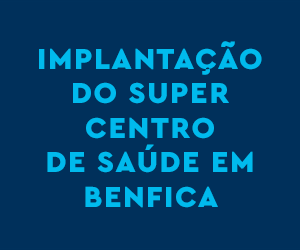“Mulher tem que entrar na política para avançar, para romper barreiras.”
Filha de pai libanês e mãe carioca, Jandira Feghali nasceu em Curitiba e chegou ao Rio de Janeiro com 6 anos de idade, onde morou, inicialmente, no distrito de Olinda, em Nilópolis, Baixada Fluminense. Depois, a família circulou por muitos bairros do subúrbio do Rio de Janeiro, o que a fez conhecer bem a cidade carioca.
Na década de 70, já iniciava um pioneirismo na música. Começou a tocar bateria ao lado do irmão na banda “Los Panchos”, tocando em vários clubes que funcionavam no Rio de Janeiro naquela época. Esse foi seu primeiro trabalho. O dinheiro que ganhava como baterista ajudava nas compras dos livros de estudos, nas despesas de casa. Uma mulher tocar um instrumento raro que era a bateria, era muito diferente para as mulheres da época. Mas não para Jandira que, mesmo sem perceber, fugia totalmente do padrão, sendo praticamente a única baterista na época das bandas.
Aos 16 anos, optou por estudar medicina, entrando para a UERJ. A faculdade era em tempo integral e muito exigente. A banda se tornava cada vez mais profissional e ficou impossível compatibilizar os estudos com a carreira de baterista.
E foi exatamente na medicina, na identificação da conjuntura na saúde e da saúde pública, percebendo que a participação individual no atendimento das pessoas era insuficiente, e que as pessoas vivem em um contexto social, além de um contexto emocional, existindo uma relação psicossocial da saúde – é que Jandira começou a atuar politicamente.
Participou da primeira greve nacional de médicos residentes. Começou a atuar e compreender a luta da saúde pública e por ali foi engajando e conhecendo a militância do partido PC do B, ainda na clandestinidade. Em 1978, foi para o 1º Congresso das Mulheres no Rio de Janeiro, em que atuou com as mulheres do partido. Ali, se identificou com a corrente emancipacionista que o partido dirigia e, em 1981, entrou para o partido, começando a lutar a partir daí.
Relatora da Lei Maria da Penha, considerada pela ONU como uma das maiores três leis do mundo no combate à violência doméstica, e também criadora da primeira licença maternidade parlamentar, a deputada federal Jandira Feghali conta nesta entrevista sobre a participação da mulher no campo social e político, a emancipação feminina, o assédio, a questão da comunicação comunitária e sobre a importância da luta coletiva pelos direitos.
A Voz da Favela: Você acha que os direitos conquistados das mulheres funcionam ou ainda falta muita coisa a ser feita?
Jandira Feghali: Os direitos de fato existem. O direito de votar e de ser votado, o direito ao acesso à educação, a determinados postos de trabalho, a Lei Maria da Penha, os direitos formais que estão na Constituição. Mas na vida real, no concreto, o patriarcado ainda é a marca da sociedade brasileira. O capital é masculino e branco. O poder é masculino e branco. A nossa sociedade é assim. A negação das outras identidades da mulher, dos homossexuais, dos transexuais. Essa negação da identidade ela existe e a concentração de poder é masculina e branca. Dito isso, todo o resto é discriminação. Menos poder, menos distribuição de renda, menos possibilidade de emprego, menos tudo. Isso ainda é a realidade do mundo e a realidade brasileira.
E aqui, como a desigualdade de renda, a desigualdade social é profunda, inclusive entre as regiões, isso se multiplica muito quando é mulher, quando é mulher negra. Se for homossexual, transexual, negro e pobre, aí pode multiplicar isso por mil. Pessoa com deficiência, então, pode multiplicar por cinco. Então, nada que está escrito na Constituição, nas leis, se aplica igualmente a cada diferença dessas. Não tem como você imaginar que esse texto da lei é aplicado igualmente, quando essas diferenças não se escondem. A cada diferença, a lei não é aplicada igualmente de jeito nenhum. É só imaginar onde está concentrado o poder e o que é.
AVF: Conte um pouco sobre a Lei Maria da Pena, sancionada em 2006, na qual você foi a relatora.
JF: A Lei parte de uma ratificação do Brasil, em convenções internacionais e do próprio texto constitucional, artigo 226 da Constituição. A partir desta constituição e dessa ratificação internacional, a própria sociedade trouxe para nós, mulheres que operam no campo do direito, que atuam nessas entidades de luta contra a violência, uma minuta de texto para dentro do Congresso, que acaba indo para o Executivo. Eles montam uma comissão tripartite: Parlamento, Executivo e Sociedade. Esse texto vem como mensagem do Executivo para o Congresso e eu assumo a relatoria. Ao assumir a relatoria, eu circulo o país. Resolvi andar, como se fosse o processo constituinte da época. Foi um aprendizado tão grande como ser humano, como mulher, com o que eu vi por esse país afora. Resolvi andar por todas as regiões, porque têm diferenças institucionais, diferenças culturais, diferenças sociais muito grandes. Então, para fazer uma lei nacional, eu precisava entender o Brasil sob a ótica dessas mulheres, dessas instituições. Ouvi coisas incríveis. Foi um aprendizado emocionante. Então, eu ouvia a demanda e depois sentava e cruzava o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Código do Processo Civil, o Código do Processo Penal, Constituição. A gente cruzava tudo pra poder inserir na lei aquela resposta daquela demanda que vinha da audiência pública. Ela é uma lei pelo direito penal mínimo. Garante o combate à impunidade. Só aumenta a pena no caso da vítima com deficiência, porque a possibilidade de defesa é muito menor. É uma lei que cuida da imagem da mulher na comunicação, que cuida da criança e do jovem mais violento, cuida da prevenção, protege a empregada doméstica da violência do patrão. Não só das relações companheiro e companheira. Cuida de relações homoafetivas, mulher sendo a vítima. Não importa se a outra pessoa é uma outra mulher. Ela amplia o conceito de violência. Estabelece a capacitação dos profissionais, que são os primeiros a atender essa vítima. Ela tira do ambiente do juizado especial criminal, o ambiente de tratamento dessa violência. Então essa lei é muito mais ampla e abrangente do que as pessoas imaginam. As pessoas precisam ler a lei. É preciso cumpri-la na integralidade. Então tem resistência dos tribunais de justiça que tem que votar orçamento, tem resistência das prefeituras para criar centros de referência. Existe resistência orçamentária para cumprir a lei. Todo mundo sabe da existência da lei, mas não conhece o seu teor. Então não sabe cobrar. A gente está na fase do cumpra-se. Fazer ela cumprir de fato intimida o agressor. É uma lei muito interessante.
AVF: Como você enxerga a questão do assédio às mulheres?
JF: Existem vários tipos de assédio. Assédio moral, assédio sexual. Então existem vários tipos de relação de assédio. No caso do assédio moral a relação é de hierarquia. No geral, acontece muito no campo de trabalho. Mas tem que fazer a denúncia para culpabilizar, para responsabilizar, punir, tipificar o crime. E nem sempre essa denúncia chega. Mas acho que essa consciência está aumentando, em todas as dimensões de crime contra a mulher. O machismo de quem recebe a denúncia na delegacia, às vezes não anda por causa disso. Por isso, a importância das delegacias das mulheres, de pessoas capacitadas. Quando se faz denúncia, se vê gozação, o cara não recebe, exige uma prova às vezes indevida. Na Lei Maria da Penha, a gente diz que ela pode denunciar sem advogado. No caso do assédio, ele tem que ser feito e aceito. Os profissionais de segurança têm que ser capacitados para essa questão de gênero. A primeira atitude é fazer a denúncia. E nem sempre as mulheres fazem.
AVF: Como uma mulher faz uma denúncia no trabalho contra o superior dela, se no dia seguinte ela pode ser demitida?
JF: Muitas mulheres se sentem acuadas. E nesse momento de crise, em que está todo mundo perdendo emprego, fica refém mesmo nessa história. Esse é o problema da submissão. Você ficar refém. A mulher, além do assédio, tem medo do desemprego. Isso acontece. Esse ambiente é muito difícil para as mulheres. Isso é real. Por isso que a gente tá tentando aprovar uma outra lei que diz que qualquer empresa que seja denunciada, por exemplo, por assédio, empresas que criem constrangimento, que elas entrem numa lista em um cadastro negativo para acessar suas licitações, ou seja, punir as empresas que sejam denunciadas. Porque aí quando a empresa sente que pode ser punida, ela mesma cuida do ambiente de trabalho. Então, tem que criar uma legislação para que o próprio ambiente de trabalho seja controlado para evitar constrangimento à mulher.
AVF: O empoderamento das mulheres deveria passar pelas escolas?
JF: Por isso essa discussão da escola sem partido é muito atrasada, muito agressiva. Aliás, esse nome “escola sem partido” é um absurdo, porque ninguém defende escola com partido. O antagônico não é esse. É uma escola crítica, uma escola que discute preconceito, que discute a violência, que discute gênero. Exatamente para você ajudar desde pequeno a construir uma ideia que a diferença de gênero é a igualdade de direitos. Você não pode bater, você não pode agredir, você tem que respeitar o outro, você tem que respeitar a diferença. Porque se você não discute isso desde pequeno, você cresce repetindo a cultura da dominação de um lado e o da submissão do outro. Se a escola não fizer isso, vai fazer onde? Nem sempre em casa se consegue passar todos esses valores. A escola é um espaço importante, mas aí você também tem que treinar o professor. Quem é o professor que está falando? Que valores fala? Se a escola não pode fazer isso, fica difícil.
AVF: Você acha que as leis, principalmente as direcionadas em defesa das mulheres, alcançam as mulheres de favelas e Baixada Fluminense?
JF: O gargalo é a comunicação democrática. Informação não é necessariamente conhecimento, mas é parte dele. A maioria das pessoas hoje tem na TV aberta a maior parte de sua fonte de informação. A escola e a democratização da comunicação seriam duas soluções para esse gargalo. Esse monopólio da informação é uma das pernas quebradas da democracia que a gente tem. Na TV aberta o cara informa o que ele quer, sobre a ideologia dominante e uma verdade única, em que ele fala a “verdade”. O jornal impresso, que é caro, as pessoas não compram. Tem que comprar o jornal barato, ou o jornal distribuído. E nem todo jornal que é bom e que é verdadeiro circula em grande número e não chega à grande massa populacional. É uma luta muito desleal. Essa questão da comunicação é muito estratégica para a democracia e para a disputa política e de opinião.
“Mulher que entra para a política tem que entrar para jogar, para a emancipação”
AVF: Os comunicadores comunitários poderiam ajudar?
JF: Não tenho a menor dúvida. Só que tem que ter recurso, né? A gente fez uma frente da rádio difusão comunitária no parlamento, criamos uma subcomissão de comunicação na comissão de cultura, onde eu presidi. Essa subcomissão criou fontes para a comunicação livre, comunicação alternativa para criar mecanismos e definir orçamento. Como você vai rodar um jornal massivamente sem recurso? Como que a TV comunitária vai ter qualidade que seduza o público a assistir sua imagem e disputar com uma TV Globo? Tem que mudar a lei, fazer uma regulação econômica para que essa galera possa existir.
AVF: Ainda há espaço para lutar pelos direitos?
JF: As mulheres hoje estão cada vez mais exigindo ocupar mesmo. Lugar de mulher é onde ela quiser. Ocupar espaços nas entidades, na eleição, nos parlamentos, no executivo, tem que ir mesmo. Mulher que entra para a política tem que entrar para jogar, para a emancipação. Quebrar paradigmas e avançar.
Publicado na edição de março de 2018 no jornal A Voz da Favela.