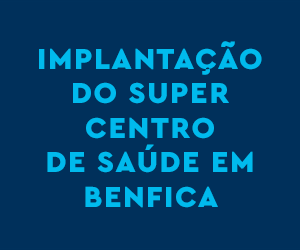Subíamos o morro. Creio que mais da metade do trajeto era feito presenciando na arquitetura certa distinção e nobreza. Sem destino previsível, ansiava por um boteco aquietado, um que permitisse observar.
O sol, que já apinhava acima da colina, sem piedade, surgia num céu aberto que a todos castigava. Enfurecia os ânimos sem os abalar. Nossas investidas exigiam no sacrifício a provação da fé do homem. E, havia sede no andar remorado, maltratado em cada passo, havia também disposição difícil de ser definida e uma beleza desmedida na polidez dos olhos ávidos, que nos miravam, dos desconhecidos sorrisos passageiros. Por fim, na culminante sequência da peregrinação havia a sobriedade dinâmica da favela.
No topo da rua, a fileira inestimável de mototaxistas, sem os quais nada funcionaria, alguns trailers na calçada junto ao muro desde o último contorno. Parada certa no horário de chegada dos trabalhadores. Mais além, as ladeiras abririam caminho a mais ladeiras, engenhosas iriam se bifurcar e se bifurcar, até as entranhas na pureza da rocha. Ao lado dessa primeira entrada conhecida, despercebido em tudo, num pequeno recuo despretensioso na variedade da paisagem.
O primeiro copo surgiu de repente, de imediato desapareceu como vapor na máquina fervente.
Pato com dores na coluna, até ali calado, disse quase delirante:
– Isso aqui, meu amigo, é água de coco!
Entravamos na Tavares Bastos, dividindo espaço a princípio com três locais, na sombra atenta e astuta dos três locais. E como sombras veríamos um boteco simples transformar-se na joia perdida do Califa, no pulsante coração do Rio de Janeiro. Dali meia hora, apenas, ao som do forrozeado, cujo estilo que melhor poderia definir o curioso frenesi, a que já nos misturávamos, era a “pisadinha”. Uma forma de bailar sem as etiquetas do salão. Subir poeira e desaparecer nela era a meta. Lá vinha ela e se ia encarregando de dominar mentes e corpos numa quantidade extraordinária.
E, enquanto as maiores inteligências procuravam a cura numa pandemia global, exigindo restrições de contato e distância, as máscaras, daqueles que as tinham, adaptavam-se nos rostos à bebida constante, ao chamego no pescoço desenfreado, às fogosas respirações sincopadas, ao roçar das cinturas indigestas. A aridez de que se farta outras regiões da cidade, lá não há. Lá transborda de utopia, de um sonho de nordeste, transborda de fascinação.
Entre todos “Zidane”, que confessou, havia perdido a mãe à duas semanas, costurava admiravelmente. A forma que achou para sobreviver a dor. Pâmela, ao canto, maravilhada, parecia desconfiar desse paraíso terrestre. Pato se entranhava no mundaréu.
Não se demorou e testemunhamos, bem perto, um desentendimento. Fez-se um buraco na massa encapelada. Puxaram facas, as cerraram no chão como num fundamento de tradição. Podia-se ver acima da roda, a quem fosse da curimba, a dança e as gargalhadas dos antigos. Era um duelo imaginário, sem nada afiado nas mãos, um rito alegórico, que dividia os territórios da peleja, que era a bateção de coxas.
No fim das contas, no esculpir do tempo, escuro já, no decorrer da hora crítica em o que o divino tornava-se mundano, decidi ir.
A lua se derramava naquele arraiá, dentro dos ardentes e indecifráveis contornos de alegria. A que todos nós enchia de grande honra. Foi quando inesperadamente baixou aquela melancolia, porque era véspera de eleição, e que tudo mais perverso permaneceria. “Imagine a arte que sai da impossibilidade de fazê-la, essa nossa gente ali tinha”, concluía
Pato, enquanto, sem desistir, descia. Descendo ouvi, talvez de minha miserável e triste voz:
– Deixe-me ir, preciso andar… Rir pra não chorar.