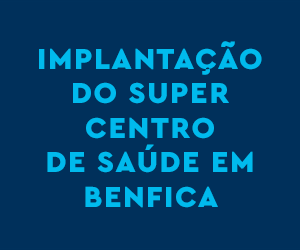“Nossa, que gritaria”, “que escândalo”, “tá assustando as outras”, foi o que uma enfermeira disse para a mulher em trabalho de parto no leito ao lado do meu. Lembrei na hora de todos os textos, matérias, relatos que li sobre violência obstétrica durante a gestação e me recusei a acreditar que mais um caso estava acontecendo, dessa vez, perto de mim. Não sabia eu que seria mais uma vítima.
Todos os dias somos bombardeados com notícias sobre casos de violência contra a mulher. Em casa, no trabalho, na rua, e dentro deste cenário macro estão violências específicas sofridas por gestantes. Mulheres que muitas vezes não têm a noção de que estão passando por uma situação violenta e as que, porventura, têm algum tipo de conhecimento sobre o assunto, não conseguem reagir ou denunciar, devido ao estado de vulnerabilidade em que se encontram.
De acordo com o estudo “Violência obstétrica no Brasil e o ciberativismo de mulheres mães: relato de duas experiências”, dos pesquisadores Ligia Moreiras Sena e Charles Dalcanale Tesser, “violência obstétrica é uma expressão que agrupa as formas de violência e danos originados no cuidado obstétrico profissional”, ou seja, ações que anulam ou comprometem o protagonismo da mulher durante o período de gestação, trabalho de parto, parto, pós-parto e puerpério.

Piadas como as faladas pela enfermeira, ou até piores, são violências normalizadas pela sociedade há muito tempo. Na experiência de parto que vivi em 2015, na maternidade de um hospital privado do Recife, sofri inúmeras formas de violência obstétrica, foram manobras para aceleração do parto, rompimento forçado da bolsa, aplicação de ocitocina sintética, manobra de Kristller, episiotomia, negativa de anestesia para aplicação dos pontos.
É recorrente que mulheres passem por essas situações sem o apoio de um acompanhante, embora o artigo 19 da Lei nº 11.108 de 2005, determine que, “os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, o parto e pós-parto imediato”. No meu caso, a negativa da presença de um acompanhante foi mais uma violência somada à lista.
A pesquisa “Nascer no Brasil: inquérito nacional sobre o parto e o nascimento”, coordenada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP-Fiocruz), revelou que, das 23.894 mulheres acompanhadas pelo estudo, no período entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012, apenas 19% tiveram acompanhante durante todo o período da hospitalização e 53,5% que passaram pelo parto normal sofreram corte no períneo.
Geralmente, a decisão pelo parto normal vem da promessa de um pós-parto rápido e tranquilo, no entanto, a experiência de um parto protagonizado pela violência, pode provocar consequências físicas e mentais, como dores incapacitantes na coluna que podem causar falta de ar, devido à força exercida na execução da manobra de Kristller. Pontos que rompem e inflamam, dificuldade para amamentar, consequentemente, mastite e fissuras profundas dos mamilos. Tudo isso pode contribuir para um estado de exaustão física e mental, sofrimento psicológico e depressão pós-parto.
Esta relação é estudada no artigo intitulado “Efeitos da violência obstétrica causados às gestantes no parto, pós-parto e a humanização da assistência de enfermagem”, nele, as autoras Verônica Barbosa de Andrade, Camila da Paz Santos, Sidlayne dos Santos e Wedja Maria da Silva, consideram que, “toda prática inadequada podem vir a causar danos físicos e mentais as parturientes que são causadas no momento do parto, que podem se estender para o pós-parto e por toda uma vida, comprometendo sua vida pessoal e social, e que pode vir a influenciar com sua experiência vivida as próximas gerações aumentando então os números de parto cesárea desnecessários”.
Ainda de acordo com o estudo “Violência obstétrica no Brasil e o ciberativismo de mulheres mães”, o debate sobre violência obstétrica acontece desde as décadas de 1980 e 1990 e é derivado das lutas feministas, ganhando força nos anos 2000, a partir das discussões levantadas pelo movimento de luta pela humanização do parto e nascimento. “Tal movimento se baseia no reconhecimento da participação ativa da mulher e de seu protagonismo no processo de parto, com ênfase nos aspectos emocionais e no reconhecimento dos direitos reprodutivos femininos”.

Nesse ponto, trago a necessária discussão sobre os estudos da interseccionalidade promovido pela escritora norte-americana Kimberlé Crenshaw e aprofundada pela doutora em Estudos de Gênero, Mulheres Feminismos, Carla Akotirene, a qual “abarca as vivências e intersecções a que está submetida uma pessoa, em especial, a mulher negra”. E, em outras palavras, “o conceito de interseccionalidade, permite aprofundar o entendimento de desigualdades e hierarquias reprodutivas vivenciadas pelas mulheres negras”, é o que concluem as autoras Kelly Diogo de Lima, Camila Pimentel e Tereza Maciel Lyra, no artigo, “Disparidades raciais: uma análise da violência obstétrica em mulheres negras”.
A partir deste novo olhar para as violências que atravessam as mulheres, sobretudo, as mulheres negras, nos deparamos com dados que reforçam o pressuposto de que, para a mulher negra, as inúmeras violências sofridas, incluindo a violência obstétrica, unem-se ao racismo.
A pesquisa “A cor da dor: iniquidades raciais na atenção pré-natal e ao parto no Brasil”, derivada do estudo “Nascer o Brasil”, realizou levantamentos sobre a violência obstétrica com o foco na questão de raça e constatou que existia “uma menor oferta de procedimentos anestésicos no parto vaginal para mulheres pretas e pardas, com menores proporções ainda para as de menor escolaridade”, sob a falsa justificativa de que, “ao se comparar pretos e brancos, os primeiros eram tidos como mais resistentes à dor” e “uma suposta melhor adequação da pelve das mulheres pretas para parir, fato que justificaria a não utilização de analgesia”, escancarando as estruturas do racismo institucional dentro das unidades de saúde sendo elas públicas ou privadas.
Diante do exposto, faz-se necessário a ampliação do debate social sobre as problemáticas que envolvem a naturalização da violência contra a mulher e como as práticas normalizadas na assistência à saúde violam direitos, violentam e traumatizam mulheres, física e psicologicamente. Algumas ações de conscientização para boas práticas na assistência à gestantes já estão sendo promovidas, como por exemplo a Lei Nº 16499/ 2018 que, “estabelece medidas de proteção à gestante, à parturiente e à puérpera contra a violência obstétrica, no âmbito do Estado de Pernambuco”. No entanto, para além da promoção de práticas humanizadas, faz-se urgente unir este debate às práticas antirracistas, considerando os dados alarmantes trazidos neste relato e as experiências vividas nesta pele.