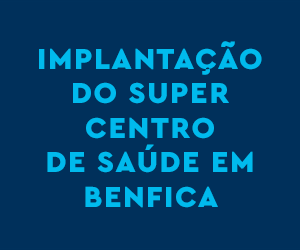Todo domingo de julho em Acupe, distrito de Santo Amaro, um teatro de rua folclórico da diáspora africana é apresentado. Pessoas vêm de todo o mundo pra testemunhar essa linda manifestação cultural, e para apoiar a iniciativa da comunidade de recuperar sua própria história. Nego Fugido representa o direito que afro-brasileiros têm de contar suas próprias histórias de resistência, espiritualidade e ancestralidade. Dessa forma, combatendo a invisibilidade e o olhar distorcido da história registrada pela antropologia ocidental.
Essa peça é sobre africanos escravizados que escapam, e depois são perseguidos e mortos pelo senhor do engenho. Esse senhor estava falindo e começou a oferecer a vida dos fugitivos para Ikú (Orixá, força da natureza, a própria morte no Candomblé), plantando uma bananeira sobre cada túmulo. Eventualmente, não havia mais vidas a serem oferecidas, e Ikú colocou uma praga na cidade. Todos os anos, bons espíritos devem ser chamados para espantar os maus e quebrar a maldição. Caretas, as crianças mascaradas que vagam pelas ruas, simbolizam a “inserção dos negros e sua cultura na sociedade brasileira” (Jamilson Oliveira). Eventualmente, escravizados recebem carta de alforria, e a cidade consegue prender e leiloar o rei. Hoje, a saia feita de folhas de bananeira secas usadas pelos artistas representa imenso poder espiritual, simbolizando a vida sacrificada de seus ancestrais.
“As folhas de babaneira em si são usadas em terreiros de Candomblé pra espandar os eguns (espíritos). Todo terreiro tem o seu babá da casa, um egun bom que impede outros eguns de atrapalhar festejos e rituais.” (Jal Souza)
A estória, que vem da tradição oral de centenas de anos atrás, relembra a brutalidade do colonialismo e da luta pela liberdade, e da força primordial de Ikú. Acupe é uma comunidade quilombola na Baía de Todos os Santos, uma região com uma longa história colonial e terras com profundas raízes ancestrais. A combinação de representações realistas, na terra onde a estória aconteceu há centenas de anos atrás, e o ritual sagrado de livrar a cidade de espíritos malignos, cria um ambiente de aprendizado e beleza artística como nada igual.
Infelizmente, o enxame de fotógrafos domina não só o público, mas também os artistas. Não há nada imperceptível ou ordinário sobre essas lentes gigantescas sendo empurradas em todos os ângulos e em todas as direções. Esses híbridos de turistas e profissionais não se envergonhavam de interromper as performances pra dirigir os atores em poses ideais. O drone flutuando sobre nós testemunhava discussões hostis entre fotógrafos que lutavam por um ponto de vista ideal, e entre membros da platéia que simplesmente não aguentavam mais pessoas se sentindo no direito a metros cúbicos de espaço aéreo.
Talvez a falta de um ambiente teatral formal tenha causado incerteza sobre o que constituiria uma boa conduta. Ou talvez achassem que essa era a única oportunidade na vida de registrar o momento. O que é certo é que o olhar colonial, e a forma histórica de racismo que estava sendo representada na peça, também se manifestou em sua forma moderna, causando ansiedade em muitas pessoas.
A população de Acupe é predominantemente negra. Então, quando há pessoas brancas, elas são vistas como “de fora”. De fato, muitos brancos aparecem apenas para documentar esse evento, e os efeitos objetificadores do olhar branco foram palpáveis.
Acredito que há um tipo de “se sentir no direito” (entitlement) que se revela quando brancos se comportam como se sua presença em si, e sua documentação, fossem um favor que estão fazendo para a comunidade; como se sua presença fosse o que desse valor ao evento. Absolutamente em momento algum acredito que um fotógrafo desses interromperia a performance de um ator com “Psssst! Pssssst!”, enquanto agressivamente apontando para onde o ator deve se mover para um melhor ângulo, no Shakespeare at the Park em Nova York.
A “epidermalização da inferioridade” pode ou não entrar em jogo em reação a isso, mas é fácil imaginar que muitos negros sentem que o “custo social” de apontar o comportamento insensível de brancos é muito alto, além de ter que lidar com uma provável explosão de fragilidade. O que posso dizer sem dúvida é que certas pessoas na platéia foram provocadas a confrontar “observadores” “sem noção”.
Eu tirei fotos com meu celular… os figurinos eram lindos e desenhados para serem fotogênicos. O problema não é visitar a cidade para o evento, assistir à performance e tirar fotos. O problema é tratar o Outro como se estivesse lá para te servir.
A insensibilidade foi tratar esses artistas como objetos, como se o seu propósito de existir fosse para nós fazermos uma foto fantástica. Os paralelos entre história e modernidade são angustiantes. A comunidade está passando uma tradição para a próxima geração, honrando seus ancestrais na própria terra onde seu sangue escoou no solo. Poder testemunhar isso é uma grande oportunidade de aprendizado, portanto nossos professores e professoras merecedores de respeito.



 Como alguém que não se identifica como negra ou da diáspora africana, conto essa estória parcialmente. Eu não vou, nem quero, falar por ninguém. Eu falo sobre eles e elas, e sobre mim mesma, porque nós existimos em relação uns aos outros, dialeticamente. Meu lugar de fala não é, e não pretende ser, imparcial.
Como alguém que não se identifica como negra ou da diáspora africana, conto essa estória parcialmente. Eu não vou, nem quero, falar por ninguém. Eu falo sobre eles e elas, e sobre mim mesma, porque nós existimos em relação uns aos outros, dialeticamente. Meu lugar de fala não é, e não pretende ser, imparcial.
“As pessoas brancas se agarram à noção de inocência racial, uma forma de negação armada que posiciona os negros como os “possuidores” da raça e os guardiões do conhecimento racial.” (Robin DiAngelo)
É minha responsabilidade reconhecer meu privilégio, e abordar como minha comunidade reproduz o classismo e o colorismo. Precisamos ouvir e aprender (e ler), mas quando exigimos o trabalho emocional não remunerado da educação racial dos afrodescendentes, caimos na armadilha de reproduzir exatamente aquilo que queremos erradicar.
Apoie a comunidade, não tire dela. Aprenda sem exigir trabalho. E participe quando for convidado. Essa é uma boa conduta que podemos estabelecer.