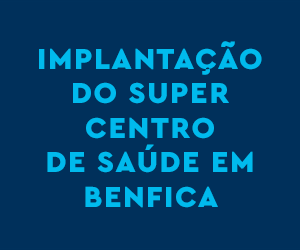21 de novembro de 2002 começa como mais um dia na rotina de Márcia de Oliveira Silva Jacintho, moradora de Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio de Janeiro.
Seu filho Hanry Silva Gomes de Siqueira, 16 anos, saiu “todo lindo” para os dois cursos que frequenta antes da escola, à noite. A mãe não imagina que aquela é a última visão de seu filho vivo.
Enquanto ele estuda, Márcia leva a neta ao médico. Ao voltar para casa, no final da tarde, prepara ao jantar, quando escuta tiros.
“Meu marido chegou, perguntei se tinha polícia na comunidade, disse que não. Perguntei se ele ouviu tiros, disse que sim”. O dia no hospital havia sido cansativo, o filho chegaria da escola no final da noite, a mãe dorme.
“Então fui acordada às cinco e quinze da manhã pelo meu esposo, dizendo que o Hanry não estava em casa. Dei um pulo da cama. A sensação foi de pânico, meu filho nunca havia dormido fora.”
Talvez não fosse ele
Ainda está escuro, é horário de verão. O marido vai trabalhar e, assim que o dia clareia, Márcia sai perguntando pelo filho na vizinhança. Alguns viram Hanry no dia anterior; outros, no cabeleireiro; alguém diz que ele foi a uma comunidade vizinha, na casa de um colega, fazer lição de escola.
No final da rua, quase nove horas da manhã, alguém diz “Márcia, não quero te assustar, mas um amigo veio ontem do hospital Salgado Filho e disse que chegaram dois baleados, um era daqui e estava de bermuda preta, sem camisa”. Hanry havia saído de bermuda preta.
“Aí eu caí em pranto, sem entender. Chamei minha amiga e fui pro hospital. Chegando lá, falaram que eram dois pardos, foi troca de tiros com a polícia, então eu falei: não é meu filho”. Hanry não tem envolvimento com o crime, não anda armado.

Márcia Jacintho sentiu que seu filho estava morto antes da confirmação.
FOTO: Arquivo pessoal
A pior notícia para uma mãe
Ainda com a amiga, Márcia volta para casa com a intenção de, em seguida, ir ao Instituto Médico Legal (IML). “Quando eu abri a porta da minha casa, o coração partiu, uma sensação forte me dizia acabou, ele não está mais nesse mundo.”
O marido telefona para saber notícias, Márcia diz “vai para o IML, acho que mataram meu filho”. Quando chega, não tem coragem de entrar. A amiga e o marido reconhecem o corpo e, ao saírem, não precisam dizer nada. Hanry está morto com um tiro no coração.
“A geladeira do IML estava queimada, o cheiro era horrível, tive que pagar pra fazer formol no corpo e poder abrir o caixão no cemitério”.
Antes do enterro, Márcia quer dar o último adeus ao filho, “mas quando abriram o caixão, meu menino estava pretinho, muito mais escuro do que ele era, e todo inchado. Eu caí ali mesmo e só acordei no hospital”.
Auto de resistência
Três meses depois, a mãe reúne forças e começa a investigar o assassinato por conta própria. “Minha dor tornei em luta”. Aciona a imprensa, manda carta para a então governadora Rosinha Garotinho, vai ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), começa a cursar Direito e chega até Brasília, tendo audiências com os ministros da Justiça e dos Direitos Humanos, que “não foram tão eficientes”.
Transformada em “mãe leoa”, descobre o local do crime, fotografa evidências, encontra provas, como cápsulas de bala, obtém acesso ao processo e descobre que 11 policiais militares do 3º batalhão do Méier participaram do assassinato de seu filho.
A alegação dos assassinos? “Auto de resistência”, quando alguém reage à investida policial. A mãe não aceita a justificativa e sua luta de quase seis anos leva à condenação de dois policiais, em 2008. “Só dois, porque é assim que eles tiram os oficiais”.
O policial Paulo Roberto Pachuini respondia outro processo, por tentativa de homicídio. E Marcos Alves da Silva tinha sido condenado dez anos antes. “Era para ele estar preso, mas estava trabalhando normalmente”.

Morto com um tiro no coração, Hanry Silva Gomes de Siqueira foi acusado de traficar.
FOTO: Acervo pessoal
Justiça?
Apesar de Márcia ter conseguido “limpar o nome do meu filho de traficante para cidadão”, ainda não recebeu a indenização à qual tem direito – o assassinato cometido pelos policiais levou à condenação do Estado do Rio de Janeiro em 2009.
Hipertensa, a mãe recebe, desde outubro de 2021, pensão equivalente a 30% do salário-mínimo. Já infartou e agora luta para se aposentar. Márcia de Oliveira Silva Jacintho, hoje com 61 anos, se transformou em líder comunitária, militando na Rede de Comunidades Contra a Violência.
Autos de resistência crescem
Contados a partir de 2003, um ano depois do assassinato do filho de Márcia, os dados da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial (IDMJRacial) mostram que a média de mortes registradas como “autos de resistência” na Baixada Fluminense, periferia da “cidade maravilhosa”, é de quase três pessoas por dia.
No último levantamento, cobrindo de 2013 e 2019, houve aumento de 336% de assassinatos em alegados confrontos com a polícia. As mortes saltaram de 416 para 1.814. O perfil das vítimas continua sendo o jovem preto, pobre, morador de periferia, como o filho de Márcia.
“Como há muitos policiais e ex-policiais em meio a uma disputa do território, ocorre o aumento de autos de resistência”, explica Patrícia de Oliveira, estudante e integrante da Rede Nacional de Mães e Familiares Vítimas do Terrorismo do Estado.
Eficiência policial?
A ineficiente política de guerra às drogas é uma das explicações para os autos de resistência, como a Chacina do Borel, em 2003, que resultou na morte de quatro inocentes.
Um deles era Thiago da Costa Correia da Silva, assassinado por policiais militares do 6º Batalhão da Tijuca. A vítima tinha 19 anos, com carteira de trabalho assinada desde os 16. Era formado como mecânico de manutenção no Senai.
Sua mãe, Maria Dalva da Costa Correia da Silva, da Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência, diz que “a guerra às drogas protege o Estado. É uma política racista, contra o povo pobre, negro e favelado, e tem o respaldo da sociedade. O pessoal que mora no asfalto acha que o povo da favela não faz parte da cidade”.
Subnotificações
A quantidade de vítimas de autos de resistência deve ser maior, pois o medo impede muitas pessoas de registrarem boletins de ocorrência. E mesmo os números oficiais devem aumentar: o estudo da ADMJRacial projeta aumento de 22% nos próximos três anos.
“Esse governador, Cláudio Castro, é a continuidade do Witzel, com uma lógica bolsonarista, de que bandido bom é bandido morto. E tem o legislativo que tomou posse: se não são milicianos, são deputados que tem vinculação com a milícia. O cenário tende a piorar”, diz Fransergio Goulart, coordenador da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial (IDMJRacial), que realizou o levantamento.
Quantidade de mortes em governos estaduais
Wilson Witzel (PSB) e Cláudio Castro (PL) = 1.278
Luiz Fernando Pezão (MDB) = 1.209
Rosinha Garotinho (MDB) = 1.134
Sérgio Cabral (MDB) = 712

Cláudio Castro e Wilson Witzel, recordistas da estatística macabra: 1.278 mortes.
FOTO: Fernando Frazão/Agência Brasil
Seletividade
A maioria das ações na Baixada Fluminense foi motivada por apreensão de drogas e retirada de barricadas em áreas de tráfico dominadas por fações. Mas pouquíssimas ocorreram em regiões de milícias.
Segundo o coordenador do estudo da IDMJRacial, a seletividade das ações policiais ocorre para enfraquecer áreas em que a milícia não atua, facilitando seu acesso. “Ocorrem em áreas que ainda resistem”, diz Fransergio Goulart.
Apenas dois batalhões da Polícia Militar – o 15º e o 20º – realizaram mais da metade de todas as operações policiais registradas na Baixada Fluminense, cerca 66%. Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo são os municípios mais visados.
“Não é mais uma hipótese, outras organizações também apontam isso. Hoje a política de segurança pública é a política das milícias. E isso faz com que as áreas que não são dominadas pelas milícias, inclusive, muitas vezes, com o apoio da polícia, sofram uma série de operações para enfraquecer o crime local e a milícia entrar. Essas áreas são do Comando Vermelho, até porque o Terceiro Comando, em boa parte do estado, produz parceria com as milícias”, explica Fransergio Goulart.
Períodos letais
Desde o início do levantamento, em 2003, a maior quantidade de mortes por autos de resistência ocorreu durante o governo Bolsonaro, com média anual de 1.412 assassinatos.
Segundo o levantamento da IDMJRacial, há sintonia entre a postura federal e estadual no que se refere à segurança pública. No ano último ano de mandato de Bolsonaro, foram realizadas 1.519 operações policiais na Baixada Fluminense, três vezes mais do que no ano anterior.
“Mesmo em um governo progressista como o PT, as mortes estavam longe de ficar no patamar que organismos internacionais consideram ideal. Essa produção de mortes é do Estado, mas isso depende muito da conjuntura”, diz Fransergio Goulart.
Ele relata que, no período em que houve a implantação das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, “diminuíram um pouco os autos de resistência e aumentaram os desaparecimentos forçados. Era um governo petista em parceria com o Sérgio Cabral, mas quem mora em favela sabe que houve um acordo com determinado varejo de drogas para que as UPPs fossem implantadas”.
Quantidade de mortes em governos federais
Bolsonaro (PL) = 1.412 casos
Michel Temer (MDB) = 1.331 casos
Lula (PT) = 1.026 casos
Dilma (PT) = 528 casos

Bolsonaro na Ilha das Cobras, no RJ: recorde de mortes por autos de resistência.
FOTO: Tomaz Silva/Agência Brasil
Nomes diferentes, mesmos crimes
Há uma tentativa oficial de substituir a expressão “auto de resistência” por “lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial” ou “homicídio decorrente de oposição à ação policial”. Por uma questão política e cultural, o IDMJRacial continua a usar a expressão conhecida pela população.
“Mudou a nomenclatura, mas, na prática, continua acontecendo a mesma coisa. A palavra do policial tem fé pública, então o que ele fala vale muito mais do que a palavra da vítima ou a palavra das famílias. É um disfarce. Mas o maior problema são os ministérios públicos do Brasil não controlarem as polícias, eles têm atribuição para isso”, critica Patrícia de Oliveira.
Esta matéria foi produzida com apoio do Edital Google News Initiative.
Gostou da matéria?
Contribuindo na nossa campanha da Benfeitoria você recebe nosso jornal mensalmente em casa e apoia no desenvolvimento dos projetos da ANF.
Basta clicar no link para saber as instruções: Benfeitoria Agência de Notícias das Favelas
Conheça nossas redes sociais:
Instagram: https://www.instagram.com/agenciadenoticiasdasfavelas/
Facebook: https://www.facebook.com/agenciadenoticiasdasfavelas
Twitter: https://twitter.com/noticiasfavelas