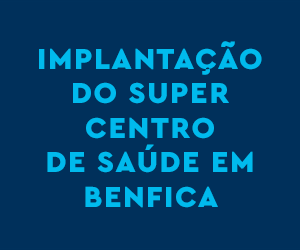Em 1942 o cineasta Orson Welles estava no Brasil quando, convidado por Vinicius de Moraes, foi conhecer aquele lugar exótico e excitante que chamavam de favela. O julgamento do rotundo diretor de Cidadão Kane foi curto e grosso: “Isso é um Frankenstein. Um monstro que vai se voltar contra vocês”. Ao que parece, além de inventar o cinema moderno, Welles também tinha o dom da profecia. Hoje, nem o exército segura mais o monstro.
Infelizmente, a versão do monstro de Frankenstein que se fixou no imaginário pop-popular foi a hollywoodiana: uma besta tatibitate com pilhas Duracell espetadas no pescoço que precisa ser exterminada pelos homens de boa vontade. Tudo errado. No livro de Mary Shelley, a criatura é descrita como um personagem articulado, inteligente, culto. Ora bolas, a analogia é perfeita. Toda favela é um Frankenstein. Formado por pedaços de cadáveres, o monstro literário causa repulsa e medo. Como a favela, também desconjuntada feita de nacos sociais heterogêneos – barracos, mansões, comércios clandestinos, ONGs, escolas, escolas de samba, salões de beleza, lan-houses, bocas de fumo, projetos sociais, paraísos artificiais e alta tecnologia, tudo ao mesmo tempo agora. Porém, quem conhece essa fera de perto sabe que por suas vielas também transita beleza, cultura e sabedoria.
Frankenstein, o monstro, foi concebido por um cientista que achava ser capaz de controlar tudo, até a vida. Porém, ao conceber a criatura, enoja-se e a abandona à própria sorte. Quem conhece minimamente a história do Rio de Janeiro sabe a quem cabe o papel de cientista louco. Se Frankenstein – ou o moderno prometeu é muito mais um livro sobre a omissão moral de um cientista e menos um conto de horror, o enredo das favelas é o de um Estado historicamente ausente, que até hoje por meio de caveirões, caveirinhas, UPPs, exércitos, choques de ordem e afins, ainda acredita poder ao menos controlar o monstro que criou.
Quando se vê psicólogos e sociólogos subindo os morros para tentar criar pontes de entendimento entre o Estado e os moradores, a semelhança entre ficção e realidade se aprofunda desgraçadamente. No livro, editado em 1818, tudo o que o titã quer é entender porque foi abandonado. Busca o diálogo com seu criador, mas este, sem ouvi-lo, tenta destruí-lo. Sem voz e acuado, o monstro responde na mesma moeda de violência. Segue-se o terror. Não vou ficar aqui arriscando piruetas sociológicas, mas sabemos que assim também é a relação favela-Estado nos morros cariocas. Pouco diálogo, muito sangue.
No fim do livro, o cientista acaba morto na perseguição à criatura, e esta dá cabo da própria vida para não mais representar um perigo para a sociedade. No mundo real, espera-se por um final mais feliz.
Em tempo: me recuso a usar o termo politicamente correto “comunidade”, criado pelo Estado, ao invés de “favela”. Até porque acho que favela, ao menos para mim, guarda um pouco da nostalgia de outros carnavais, bem mais amenos que os de hoje.
Bonus track I: em algumas versões cinematográficas bobocas, o monstro é preso e exibido como atração de circo. Viajo na comparação e quase posso ver os gringos visitando a laje do Michael Jackson, no Santa Marta, ou dando um passeio no teleférico do Complexo do Alemão.
Bonus track II: sou cria do subúrbio do Rio. Morei há pouquíssimos quilômetros de uma favela de respeito. Assisti in loco o nascimento de pelo menos três delas. Noutras, subi para apresentar workshops literários. Mas sempre que alguém me pergunta se o problema das favelas tem solução não sei o que responder, fujo do assunto. Problema? Creio que o primeiro e definitivo passo é enterrar de vez a ideia de que as favelas são um problema, quando de fato elas tem problemas, um montão deles. Agora, se a questão é a violência, então dou meu braço a torcer. Solução? No way. Basta fazer uma continha primária. Hoje são 17 UPPs, 40 até 2014. Ótimo, perfeito, se no Rio não existissem mais de 600 favelas. Na melhor das hipóteses, seria 560 favelas ainda sob a influência do tráfico, da milícia e outros malfeitores de ocasião.