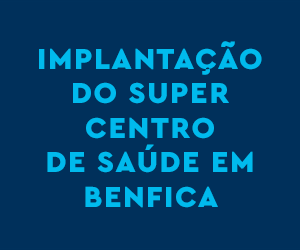Entrevista: Doralyce Gonzaga, cantora
Cantora, compositora, atriz, agitadora cultural, advogada, ativista, feminista, negra, nordestina, musa da democracia, artista: a pernambucana Doralyce Gonzaga é feliz proprietária de muitas definições para si mesma. Nascida em Recife e criada em Olinda (PE), ela ficou conhecida pelas performances que fez durante a campanha contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Doralyce foi uma das cabeças pensantes de algumas ocupações do país, como o Ocupa Minc RJ e o Ocupe Estelita, na capital pernambucana.
Aos 27 anos e morando no Rio de Janeiro desde 2014, Doralyce Gonzaga passou por importantes palcos da cidade, como Canecão e Circo Voador, e cantou ao lado de nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Beth Carvalho, Arlindo Cruz, João Donato e Criolo. Ela se tornou também um ícone do carnaval alternativo da cidade, atuando em blocos como Tambores de Olokun, Grupo Maracutaia, Amigos da Onça e Agytoê. Recentemente, lançou virtualmente o disco “Canto da Revolução”, com oito faixas autorais.
A busca por uma trajetória única em comportamento, posicionamento político e arte se fez presente por toda a sua vida – quem diria que a “Musa da Democracia”, como era conhecida nos tempos de ocupação, começou a carreira cantando louvores em igreja? Tendo o feminismo e a militância negra como nortes para sua vida e sua arte, ela é autora da faixa “Miss Beleza Universal”, pancadão mixado por Leo Justi e DJ Jonatan da Providência que questiona os estereótipos caucasianos que estampam as revistas.
“Não basta ser mulher, tem que estar no padrão”, diz a faixa. Doralyce está aí para quebrar todos – e é sobre padrões e estereótipos que ela conversou com o Jornal A Voz da Favela.
A Voz da Favela: Quando você se descobriu uma mulher feminista?
Doralyce Gonzaga: Eu tô descobrindo ainda. Se comportar fora do padrão é se descobrir feminista. Eu não costumo aceitar a maioria das imposições que o patriarcado impõe, desde criança, mas, hoje, tenho um entendimento maior de qual é o meu lugar na sociedade, do quanto eu sou oprimida e de quantas vezes a sociedade vai dizer que é normal ser oprimido. As outras mulheres foram substanciais pra esse meu processo. Eu me entendi olhando para as minhas semelhantes.
AVF: Na sua opinião, qual é a pior forma de opressão do patriarcado?
DG: As questões do corpo, o aborto, o direito à vida da mulher. Todo direito da mulher é cerceado. Esse peso moral com que a sociedade impõe o pudor, de não poder mostrar os seios, se vestir à vontade… A prisão do corpo é a maior delas, porque é real, tangível.
Nascer negra é uma bandeira de luta.
AVF: Já que a gente está falando de corpo, como nasceu “Miss Beleza Universal”?
DG: Eu namorava um garoto, e fui num baile do Agytoê vestida de rainha. No final da noite, a gente chegou em casa e ele falou: ‘Nossa, você tava engraçada hoje. Tava gordinha naquele vestido, seu cabelo tava desgrenhado na coroa’. Falou isso rindo. Eu ri também na hora, de nervoso. Aquilo tava me ofendendo, mas eu não sabia como dizer pra ele. Fui pra casa e contei pras minhas amigas. Elas acharam um absurdo. No outro dia, falei pra ele o que eu pensava e cantei “Miss Beleza”, que é um trechinho de uma música muito maior. A gente deu uma encurtada pra fazer o produto mais comercial que eu pudesse, que tivesse uma linguagem direta, objetiva, que o público me entendesse assim que eu estivesse falando.
AVF: No que esse padrão de beleza ainda incide na sua vida?
DG: Descobrir meu cabelo me deu uma força que eu desconhecia. Se eu soubesse como era o meu cabelo antes, talvez, não tivesse sofrido uma série de traumas. Eu tentei me adaptar a um cabelo que não era o meu. Eu não podia ir à praia que o cabelo virava uma palha. Eu vou hoje e volto com uma coroa na cabeça, os fios vão ficando dourados pelo sol… É uma parada sensacional. Quando eu era mais nova, era uma luta. O cabelo, a pele da gente tem outras exigências.
AVF: Muito se falou sobre o clipe de “Vai Malandra”, de Anitta, sobre padrão e apropriação cultural. Qual é a sua opinião a respeito?
DG: “Vai Malandra” é a malandragem do branco na apropriação cultural, que é o momento em que você se diz igual ao outro, mas não é sua bandeira de luta. Anitta é parte daquela cultura porque faz parte da cultura do funk, mas ela nunca sofreu as dores de ser negra. Isso tira dela o direito de gozar das delícias de ser negra. É você abusar do seu privilégio. Dói em você o racismo? Ficar discutindo isso é incômodo, mas viver essa realidade por mais de 400 anos, com certeza, é um inconveniente muito maior. A gente precisa falar sobre isso. A cultura popular no Brasil tem esse hábito de se europeizar. Rainha do funk é a Anitta. Tá, mas e a Tati Quebra-Barraco? E a MC Carol? E Deise Tigrona? Cadê essas mulheres, que estão aí na defesa do funk há tantos anos, quando ninguém ostentava o funk porque era música de marginal?
AVF: A participação feminina no funk, com exceção de alguns nomes, é sempre muito sexualizada, o corpo feminino é sempre muito exibido. Como você enxerga isso?
DG: Cada um faz do seu corpo o que quer. Eu acho chato quando tem um produtor por trás objetificando, falando: ‘Expõe dessa forma, que é a melhor forma de você ganhar dinheiro com ele’. Mas se você, que ouviu isso e quer ganhar seu trocado, vá lá. O corpo é seu. Não tenho esse pudor, não. Eu, particularmente, sou muito exibicionista. Adoro mostrar meu corpo, me acho linda. Tenho esse problema de autoestima muito alta (risos). Vejo a objetificação do corpo da mulher muito mais pelo prisma do patriarcado. Eu quero bater na base do problema. Não tenho nenhum problema com bunda. Meu problema é quem pensou as bundas e por que as está colocando ali.
AVF: Nessa época de verão, a pressão sobre o corpo perfeito aumenta. Isso já foi um problema pra você?
DG: Nunca tive esse problema. Minhas amigas ficavam indignadas. Elas, super dentro do padrão, iam pra praia de biquíni e ficavam se cobrindo. E eu… ‘Me engula!’ (Risos). Mas sofri bastante, porque você é tida como sem noção. Feio e bonito são noções de perspectiva, de ponto de vista. Eu não tenho tesão em máquina de músculos. Eu gosto de corpo natural. É uma prisão essa questão do padrão.
AVF: E como é lidar com o padrão de beleza sendo uma mulher negra?
DG: Eu acredito muito na solidão da mulher negra. É real. Vejo pelas minhas amigas. Como mulher negra, a coisa mais difícil foi a minha infância mesmo. Fui bastante boicotada (por estar acima do peso e por ser negra). Alisei meu cabelo pela primeira vez com três anos. Fiquei alisando até perto dos 20. Eu sofri muito bullying. É muito f*** crescer e virar a Miss Beleza Universal. Como as coisas mudam… Ainda bem, estamos sentando o pé na porta. A luta é muito nossa. Todas as forças e pontes institucionais que a gente tinha, de defesa dos nossos direitos, como mulher, como negra, foram destruídas. Nascer negra é uma bandeira de luta. A qualquer momento, você pode ser desacatada, você vai estar andando em algum lugar e alguém vai te seguir, as pessoas vão achar que você vai roubar alguma coisa ou alguém vai te dizer uma frase desagradável. Isso não aconteceria comigo se eu fosse branca.
AVF: Tudo indica que, com os desmandos da atual gestão municipal sobre o carnaval de rua, a festa desse ano tem tudo para ser polêmica. O que podemos esperar?
DG: Quero fazer o carnaval mais subversivo que o Rio já viu. Subversão é você juntar um monte de gente que pensa coisas parecidas e dizer que elas podem trabalhar juntas. Isso já é bastante subversivo. Um dos papeis que a gente deve pegar nesse carnaval é o de conectar pessoas. O carnaval reúne todo mundo. Esse “todo mundo” tem voz, tem voto, tem poder, tem força. Pra mim, o carnaval é muito isso: como a gente vai condensar essa energia para aplicar no resto do ano? O que pode acontecer durante o carnaval que seja simbólico, como um marco de resistência da cultura do Rio de Janeiro? Tenho pensado muito nisso.
Publicado na edição de janeiro de 2018 no jornal A Voz da Favela.