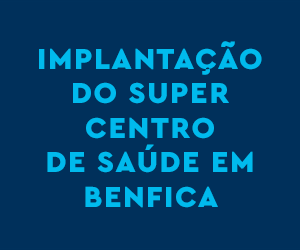Um levantamento transformou em números uma realidade já conhecida: cerca de 75% dos moradores consideram regular, ruim ou péssima a ocupação do Exército no Complexo da Maré entre 2014 e 2015. Os dados são da pesquisa “A ocupação da Maré pelo Exército brasileiro – Percepção de moradores sobre a ocupação das Forças Armadas na Maré”, realizado pela ONG Redes da Maré em parceria com a instituição britânica People’s Palace Projects, da Queen Mary University Of London.
Em abril de 2014, as Forças Armadas ocuparam 15 das 16 favelas que formam o Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. O objetivo oficial era preparar o terreno para a implementação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na região. A ocupação aconteceu às vésperas da realização da Copa do Mundo e durou um ano e três meses. O projeto da UPP na Maré foi cancelado pela Secretaria de Segurança Pública em 2016, mas as marcas no território foram profundas. Relatos de confrontos e abordagens truculentas por parte das tropas se tornaram rotina durante o período.
Segundo levantamento realizado na favela entre fevereiro e setembro de 2015, menos de um quarto da população da Maré considerou a ocupação ótima (4%) ou boa (19,9%), enquanto 75,3% avaliaram como regular (49,5%), ruim (11,9%) ou péssima (13,9%). A entrada das Forças Armadas também não alterou a sensação de segurança na área para 69,2% dos entrevistados. Mil moradores das favelas ocupadas, com idade entre 18 e 69 anos, foram ouvidos na pesquisa.
“Não há como não considerar a ocupação um fracasso, tendo em vista as expectativas da sociedade – e dos próprios moradores – frente a um investimento tão vultoso do ponto de vista econômico, logístico, militar, político e social”, afirma a doutora em Serviço Social pela PUC-Rio e diretora da Redes da Maré, Eliana Sousa Silva, responsável pelo estudo. “O preço que se pagou foi muito alto para que nenhum avanço estrutural tenha ocorrido.”
Nove por cento dos moradores relataram ter sofrido violações de direitos por parte das forças do Exército durante a ocupação. A abordagem incisiva foi a mais citada (70%) por aqueles que responderam afirmativamente, seguida de agressão verbal (46%) e agressão física (31%). Trinta e quatro por cento dos entrevistados declararam terem passado por revista pessoal e 98,5% deles disseram jamais ter pedido qualquer tipo de auxílio ao Exército, o que indica o nível de desconfiança da população diante dos ocupantes.
Para Eliana Sousa Silva, a favela é tratada como um “território de exceção”, onde direitos não precisam ser efetivamente obedecidos. “Isso explica porque o Exército usa, com naturalidade, tanques para fazer o patrulhamento das ruas, anda com armas de guerra de alto calibre e coloca arames e sacos de areia em vias e ciclovias, tornando a paisagem, efetivamente, uma arena de guerra”, resume.
Jovem baleado pelo Exército ficou paraplégico e aguarda por justiça
Vitor Santiago Borges é parte das estatísticas de moradores da Maré que sofreram violência por parte de militares durante a ocupação do complexo de favelas. Aos 29 anos, ele era um jovem como muitos da região. Era músico, estudava e trabalhava para garantir o sustento da filha Beatriz, então com dois anos de idade. Ex-bailarino do Corpo de Dança da Maré, projeto realizado pelo famoso coreógrafo Ivaldo Bertazzo no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré – Ceasm, havia trabalhado com muitos artistas, como Seu Jorge e Zeca Baleiro. Mas na véspera do carnaval de 2015, tudo mudou.
Aquele era um dos períodos mais tensos da pacificação da Maré. Oito tanques circulavam pelas 16 favelas do Complexo. A cada 600 metros, trincheiras com sacos de areias, arame farpado e soldados armados cruzavam o caminho de quem tentava levar uma vida normal em meio a uma verdadeira zona de guerra. Moradores chegavam a ser revistados diversas vezes ao dia.
Na noite de 12 de fevereiro de 2015, o carro em que Vitor estava com quatro amigos foi fuzilado por militares da Força de Pacificação ao entrar na comunidade Salsa e Merengue. Os cinco ocupantes do Palio Branco, que já haviam sido revistados e liberados por outra barreira militar na Vila do João, alegam ter sido atacados sem qualquer motivo. Um deles era o sargento da Aeronáutica Pablo Inacio da Rocha Filho, que passava férias no Rio. Segundo testemunhas, nenhum dos militares envolvidos no fuzilamento do carro usava identificação naquela noite.
Nascido e criado na Vila do Pinheiro, Vitor Santiago Borges levou dois tiros de fuzil. Ele ficou paraplégico, operou um dos pulmões, fez hemodiálise e ainda precisou amputar uma das pernas durante os 98 dias de internação no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Hoje, sofre ao lado da mãe, Irone Santiago, para ter acesso a tratamento adequado. Ele ainda não recebeu qualquer ajuda do Estado e conta com o apoio dos próprios moradores da Maré, que se mobilizaram para fazer doações de cadeira de rodas, cama hospitalar e até contribuições financeiras.
Irone deixou o trabalho como costureira para cuidar do filho e se tornou uma militante dos direitos das vítimas da violência do Estado. Ela conseguiu apoio de organizações, ativistas, políticos e de toda a comunidade em sua luta por justiça, fazendo uma verdadeira peregrinação por órgãos da instância militar e também no Ministério Público Federal. “Meu filho era um cidadão de bem e teve seus direitos violados. Ele não levou dois tiros sozinho. Eu levei junto com ele, porque a família sofre junto”, afirma ela, que criou os três filhos e as duas netas na Maré, onde vive há 48 anos.
O processo levou um ano para ganhar encaminhamento. Durante todo esse tempo, Vitor Santiago Borges havia sido listado nos autos apenas como testemunha em uma ação contra o amigo Adriano Bezerra, motorista do carro fuzilado que chegou a ser preso sob a acusação de furar a blitz e tentar atropelar os militares. Os rapazes também foram acusados de estarem embriagados e até de terem trocado tiros com os soldados em uma das diversas versões dadas pelos envolvidos. O caso quase foi arquivado, mas, por fim, o cabo Diego Neitzke assumiu a culpa por efetuar os disparos.
A ação segue em andamento desde 2016. Vitor e sua família pleiteiam indenização do Estado pelos danos. “O processo está correndo, e eu vou continuar brigando. Eu quero justiça e ela precisa ser feita”, resume Irone, que agora sonha também lutar pela acessibilidade dos deficientes físicos da Maré.
‘Nossos filhos têm mães e nossos mortos têm voz’
Irone Santiago, 52 anos, mãe de Vitor Borges Santiago e militante dos direitos humanos
“Houve muitas violações durante o tempo em que o Exército ficou aqui. Muitas pessoas foram mortas, mutiladas. A cada 600 metros, havia barreiras. Todo mundo era revistado, homem ou mulher. A Maré se tornou um inferno. Eu nunca vi tanto tanque. Isso a gente vê em filme, na Síria, Iraque, países que estão constantemente em guerra. Qual é a guerra que nós estamos vivendo?
Meus filhos nasceram na Maré. Nunca vi a favela do jeito que hoje a gente vê. Não sei por que os nossos governantes pediram para essa gente entrar aqui com a desculpa de uma possível pacificação. Por que a gente tem que ser pacificado? A gente é bicho? A gente não precisa disso. Quem tem que ser pacificado é o Congresso. Tem que haver mais respeito com o próximo.
Foram quase quatro meses dentro de um hospital com meu filho entre a vida e a morte. O Vitor levou um ano para fazer perícia. Até o médico do HCE (Hospital Central do Exército) falou que isso era um absurdo. Fui a várias instâncias. Na época, eu estava muito revoltada. Essa revolta está saindo aos poucos. Eu sinto muito ódio. Meu filho era um cidadão de bem e teve seus direitos violados. Ele não levou dois tiros sozinho. Eu levei junto com ele. Ele é a vítima, mas a família se torna vítima também porque sofre junto. Ele ficou muito mal. Está vivo por um milagre, é um guerreiro.
É duro perder um filho, mas é duro ver o meu nessa situação. Deus não me deu um filho paraplégico. Deus me deu um filho perfeito. Foram várias as pessoas com quem também aconteceu isso. Mas elas se calaram. Eu fui à luta. A gente não tem tempo de luto. Eu faço papel de médica, enfermeira, detetive, advogada, de tudo. Eu sou a voz do meu filho. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver vida, eu vou lutar, eu vou falar por ele. Os nossos filhos têm mães e os nossos mortos têm voz.
Espero que as leis mudem e as pessoas passem a nos ver não como a escória da sociedade, mas como os seres humanos que nós somos. Que outras Irones, Ana Paulas, Deises não venham a chorar. A cada dia cresce o número de mães vítimas desse Estado assassino e genocida. A gente tem sede de justiça. A gente só quer aquilo que nos foi tirado, que foi o direito de ir e vir.
Eu não pedi o Exército na Maré. Não foi com consentimento meu, da minha família, dos moradores que eles vieram para cá. Quero que meu filho seja ressarcido por tudo que fizeram a ele. Não vai ter dinheiro no mundo que pague, mas que pelo menos ele possa ter uma vida digna. As pessoas têm que se indignar e ir atrás de seus direitos. Não podemos permitir que essa gente continue a nos matar.”
Publicado na edição de junho de 2017 do Jornal A Voz da Favela.