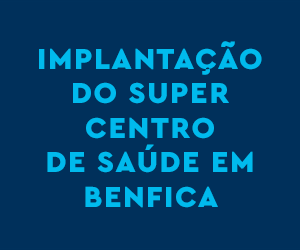Quem vê o agitador cultural Julio Barroso à frente dos blocos independentes mais bombados do Rio não pode imaginar que uma década atrás ele detestava Carnaval. Filho de uma cantora e puxadora de sambas tricampeã pela Beija-Flor de Nilópolis nos anos 1970, o trauma de infância veio na surra que levou de uma turma de bate-bolas em Santa Cruz. Julio levou mais de 30 anos para se reconciliar com a folia de momo, mas, agora, faz jus à herança materna. Em um modelo de carnaval sem donos nem patrões, ele atua como uma espécie de diretor de evolução e harmonia em blocos como Orquestra Voadora, Céu na Terra, Bagunço, Tambores de Olokun, Vamo ET, Boitatá e Boi Tolo. “Missão das mais difíceis”, segundo suas próprias palavras. Mas, literalmente, botar o bloco na rua é com ele mesmo.
A Voz da Favela: Em 2017, o Rio de Janeiro conta com 462 blocos carnavalescos oficiais registrados na Prefeitura. Mas existe também um sem número de agremiações independentes por toda a cidade e que movimentam o carnaval da cidade. Na sua opinião, o que é mais difícil para os blocos não oficiais?
Julio Barroso: Olha, eu acho que a maior dificuldade hoje dos blocos não oficiais é a questão do espaço, né? A cada ano aumenta o número de seguidores. Às vezes, é muito difícil convencer o público de que o músico e os outros artistas, como os pernas de pau, precisam de espaço físico mesmo. Mas a gente, com bom humor e muita paciência, tem que entender o público, convencê-lo de que ele está atrapalhando o músico a tocar. Eu já vi trombonista machucar a boca por causa de uma pessoa que não queria sair de perto.
AVF: E como fica a questão da repressão do poder público a esses blocos?
JB: Para nós, este ano é uma incógnita. Eu estive em uma reunião outro dia na Riotur para falar sobre o desfile do Tambores de Olokun, que é um bloco não oficial. Fomos lá pedir para que a Prefeitura pelo menos não atrapalhasse o desfile. No ano passado, a gente teve problema. Eles queriam uma autorização para uma coisa que não precisa ter.
AVF: Isso se enquadra na Lei do Artista de Rua (Lei Nº 5.429, de 5 de junho de 2012, que libera a realização de apresentações em espaços públicos)?
JB: Sim. E existe uma lei orgânica do carnaval, que fala que qualquer grupo pode se reunir para tocar e andar pelas ruas que estejam fechadas. Então, sim, a gente tem problemas às vezes com a Secretaria Especial de Ordem Pública (Seop) quando há um agente que desconhece a Lei do Artista de Rua. Como no carnaval tem muita gente na rua, eles preferem não comprar uma briga para não repercutir mal na imprensa. Apesar disso, no ano passado, cerca de cinco blocos tiveram problema com a Guarda Municipal.
O carnaval é o símbolo maior da transgressão
AVF: É muito difícil ter essa autorização, tornar-se oficial etc.? Como vocês lidam com essa questão burocrática?
JB: Se um bloco pedir autorização para desfilar pela cidade, ele vai ter que dar uma previsão de público. Dependendo desse número, o bloco tem que se responsabilizar por questões como banheiro público, segurança, limpeza, e não temos como arcar com isso. Existe ainda uma taxa a ser paga, e há blocos que não querem ter esse vínculo oficial com a prefeitura. São blocos independentes, orgânicos, espontâneos, que reúnem os amigos para brincar carnaval.
AVF: O carnaval é a maior festa do Brasil. À parte dos grandes blocos que levam meio milhão de pessoas às ruas, existe uma cadeia produtiva nesse sentido? É possível viver disso, gerar renda?
JB: Existe uma cadeia produtiva que sobrevive por um certo período, né? Não conheço ninguém que viva exclusivamente de bloco. Mesmo os blocos mais tradicionais, quando fazem festas pontuais durante o ano, trabalham em versão reduzida, em formato de banda. Um bloco requer um número bastante grande de músicos que têm que ser remunerados. O cachê nunca vai ser favorável para pagar 40, 50 pessoas. Então, não dá, salvo algumas exceções, se é que existem.
AVF: O Rio de Janeiro hoje possui blocos em todos os lugares da cidade. É o caso dos blocos de periferia e favela, que fazem a festa, mas também enfrentam uma série de problemas. Como você vê essa questão?
JB: Olha, eu acho que os blocos de carnaval atuam em nichos locais. Os blocos mais tradicionais da Zona Norte, como o Cacique de Ramos e o Bafo da Onça, têm características muito locais. Eu acho que as pessoas que frequentam o Bafo da Onça não se sentiriam à vontade de ver o cortejo de um Biquínis de Ogodô, por exemplo. Estão acostumados a outro tipo de carnaval de rua. A diferença maior é musical mesmo. No subúrbio, os blocos de Madureira, da Zona Oeste tocam exclusivamente samba e marchinhas. No Centro e na Zona Sul, a gente toca do brega ao rock ‘n’ roll. Eu acredito que foi isso que resgatou o carnaval de rua do Rio. Quinze anos atrás, a maioria dos cariocas viajava no carnaval.
AVF: Tratando dessas diferenças, o que você acha da questão de marchinhas de carnaval como “Cabeleira do Zezé” ou “O Teu Cabelo Não Nega”, que agora levantam polêmica ao serem acusadas de machistas e racistas?
JB: Eu acho que essa é uma questão muito delicada. Demorou muito para que as letras fossem questionadas. Algumas eu acredito que sejam realmente preconceituosas. A gente não vai morrer se deixar de tocar uma ou outra. Mas aí se abre um precedente perigoso, ao mesmo tempo em que, quando é consenso, é válido. Eu, por exemplo, acho que “O Teu Cabelo Não Nega” (“O teu cabelo não nega, mulata / Porque és mulata na cor / Mas como a cor não pega, mulata / Mulata, eu quero o teu amor”) não tem que tocar. É uma musica machista e racista, muito diferente de “Mulata Yê Yê Yê” (“Mulata bossa nova / Caiu no hully gully / E só dá ela / Iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê / Na passarela”), que exalta a beleza da mulata que, pela primeira vez na história, tinha conseguido ser miss (a letra foi composta por João Roberto Kelly em 1965, em homenagem a Vera Lúcia Couto, primeira mulher negra a vencer o concurso Miss Guanabara). Mas eu acho que a gente está perdendo essa coisa transgressora do carnaval, sabe? Ao mesmo tempo, também me incomoda quando alguém fala que isso é “mimimi”. As pessoas que se sentem ofendidas têm que expor que não estão se sentindo bem. Agora, daí a ganharem o debate ou não, é outra coisa. Isso é democracia. O carnaval é o símbolo maior da transgressão, tem tudo a ver com o sonho. Naqueles quatro dias, você pode se transformar naquilo que quer ser. Ninguém se fantasia de algo que não gosta. Se eu me fantasio de mulher, é porque eu gosto das mulheres. Quando eu me fantasio de palhaço, é porque eu gosto dos palhaços. Jamais vou me fantasiar de uma coisa que eu deploro. As pessoas estão esquecendo que o carnaval é isso também. Carnaval é brincadeira, é escárnio, ainda que dentro do respeito.