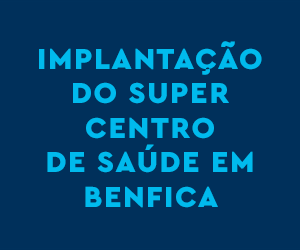Seja qual for o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos, uma coisa é certa: a vitória de qualquer um dos candidatos vai jogar água no moinho da onda conservadora que varre o mundo. Para além de qualquer preferência com relação a Donald Trump (Partido Republicano) ou Hillary Clinton (Partido Democrata), o fato é que o novo governo dos EUA deve promover uma escalada de retrocessos e instabilidade democrática para os Estados Unidos e, consequentemente, para a humanidade.
Vale ressaltar que o processo eleitoral norte-americano é um jogo de cartas marcadas. Todo o processo segue esta linha: das campanhas de arrecadação de fundos (no qual a viabilidade econômica das candidaturas determina a sua viabilidade política), passando pelas primárias e pelo show-business eleitoral das convenções partidárias de democratas e republicanos, até o dia das eleições (onde não se votam nos candidatos e, sim, em chapas de delegados por Estado que irão, estes, sim, eleger o/a presidente do país). Na prática, o número de delegados eleitos por cada partido já determina o vencedor no pleito presidencial. É importante lembrar que o voto nos EUA é facultativo, e o índice de abstenção costuma ser igual ou maior a 50% dos eleitores – ou seja, maior do que a média de abstenções registradas no Brasil nas últimas eleições municipais, que ficou em torno de 30 a 40%.
Uma novidade interessante destas eleições americanas foi a campanha do senador democrata Bernie Sanders, que disputou as primárias de seu partido, fazendo a candidatura “oficialista” de Hillary Clinton passar sufoco nesta etapa inicial. Sanders fez uma campanha inovadora, de intensa mobilização nas redes sociais, dialogando com amplos setores da juventude descrentes com a política tradicional, com uma plataforma à esquerda, em defesa dos direitos sociais, saúde pública, direitos humanos e imigrantes. Os Clinton tiveram que usar toda a sua poderosa máquina política e econômica para garantir a indicação de Hillary como candidata democrata. Mas Sanders embaralhou o jogo e demonstrou que é possível fazer diferença, e que existe espaço para alternativas de esquerda na sociedade e na política norte-americana.
Tradicionalmente, a esquerda e o campo progressista no mundo costumam expressar uma certa simpatia para com as candidaturas do Partido Democrata, e não sem razão. Agendas importantes como direitos humanos, seguridade social e o tratamento digno aos imigrantes costumam encontrar maior receptividade nas fileiras democratas do que entre os republicanos. A eleição de Barack Obama teve um profundo significado simbólico e político para o mundo, e as reformas implementadas em seu governo no plano das políticas sociais merecem destaque em uma sociedade altamente desigual e injusta como a norte-americana. No entanto, na política externa, Obama comportou-se de forma conservadora e belicista, patrocinando a invasão à Líbia, aumentando o apoio ostensivo a Israel, acirrando os conflitos com a Rússia na fronteira com a Ucrânia e dando cobertura para o golpe de Estado em Honduras, apenas para citar alguns exemplos. E quem era a Secretária de Estado, responsável por conduzir a política externa norte-americana? Hillary Clinton, candidata democrata à presidência dos EUA.
Tudo leva a crer que um possível governo Clinton deverá produzir mais conflitos e instabilidade no plano internacional. Diana Johnstone, uma das analistas da política norte-americana mais respeitadas e influentes no campo da esquerda, define Hillary como “a Rainha do Caos”. Segundo ela, a tendência de conflitos militares na Rússia e no Oriente médio aumenta com a vitória da democrata, e vai além: “Os meios de comunicação de massa no ocidente se negam a dar conta que muitos observadores sérios temem que Hillary Clinton nos conduza à Terceira Guerra Mundial”. No plano interno, é notória a relação de proximidade e parceria dos Clinton com os grandes fundos de investimento de Wall Street, principais financiadores da Fundação que leva o nome do ex-presidente Bill Clinton. Os planos de saúde e seguridade privadas foram uns dos principais setores a investir na campanha de Hillary, o que pode significar uma revisão dos avanços do governo de Barack Obama em relação ao tema da saúde.
Donald Trump, por sua vez, é um personagem grotesco, bizarro, que seria caricato se não fosse pavoroso. Baseia sua campanha em discursos de ódio, intolerância e racismo contra imigrantes que encontram ressonância e respaldo em uma parcela expressiva do eleitorado norte-americano. Empresário e “astro” de reality shows, Trump encarna ainda o sentimento de rejeição à política e aos políticos tradicionais, projetando a figura de um outsider que se posiciona “contra tudo que está aí”, fenômeno que também vimos ocorrer na política brasileira nos últimos anos. Nas prévias republicanas, Trump superou candidatos como Ted Cruz, um cubano-americano evangélico de extrema direita vinculado ao movimento ultraconservador Tea Party. A esta escalada conservadora ascendente do Partido Republicano, o estabilishment político dos Estados Unidos, especialmente o sistema financeiro e os grandes meios de comunicação, parece apostar na candidatura de Hillary como uma opção mais palatável e equilibrada diante do que seria uma espécie de barbarismo kitsch representado por Trump.
O resultado das eleições americanas influenciará, de uma forma ou de outra, a opinião pública e os rumos da geopolítica mundial. Trump representa um pensamento reacionário crescente, que encontra correspondentes em diversos países, e sua vitória nos permite vislumbrar um cenário de radicalização conservadora com consequências imprevisíveis. Uma vitória de Hillary representa uma ameaça concreta à paz mundial, com o acirramento de tensões e conflitos militares em diversas partes do mundo. Para a América Latina, em ambos os casos, deve prosperar o apoio a uma onda conservadora na região, que ponha fim ao ciclo de governos progressistas iniciados na primeira década do século XXI.
Na peça “Rei Lear”, de Shakespeare, o personagem principal afirma: “Ainda não é o pior enquanto pudermos dizer: – Isto é o pior!”. Ao final desta batalha eleitoral, não parece haver motivos para grandes comemorações em nenhum lugar do mundo, nem mesmo nos Estados Unidos. Dos dois, o vencedor será o pior por ter vencido. Mas esperamos ainda poder dizer que é o pior.