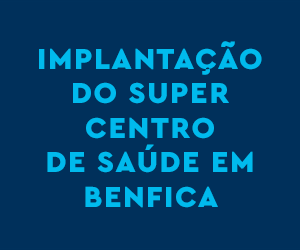… Assim falava Bertoldt Brecht em sua célebre frase. Todos sabemos que os tempos de hoje são tempos favoráveis às criaturas sombrias. O grande cineasta George A. Romero, pai dos filmes de zumbis, morreu há pouco tempo, mas nos deixou de herança esta simbologia dos mortos-vivos e vivos-mortos. O que retorna do túmulo permanece vivo, mas agora é vivo-morto. A cinematografia recente vem trazendo nas suas representações os efeitos drásticos de se viver numa terra arrasada por zumbis. Estas duas imagens ilustram o retorno do ódio neste período recursivo da história, do ódio que mora no coração dos homens e que retorna como super bactéria, se alastrando pelo ressentimento cíclico ou por uma nova forma vil e gratuita de contaminação via redes sociais.
No Brasil, estamos vivendo tempos de terra arrasada, tempos de exceção, tempos de perda da nossa democracia – tão jovem – junto à plena perda de direitos duramente conquistados por anos de luta e desassossego dos oprimidos, dos que estavam e ainda estão nos movimentos sociais, nos movimentos feministas e no feminismo negro, nos movimentos negros, quilombolas, indígenas, LGBTs.
Mas, para lembrar um filme bem brasileiro, é “ódiquê”? É o ódio ao povo, ódio ao negro, mas principalmente ódio à negra – que chegou ao ensino superior, à pós-graduação, ao Miss Brasil. É ódio aos nordestinos e mais ódio às nordestinas com suas “caras de empregadinhas”. O ódio às negras e nordestinas pobres que recebem o Bolsa Família e se recusam a voltar para as cozinhas sofisticadas dos neocolonialistas, que se recusam a trabalhar sem direitos nas novas senzalas.
O ódio da classe média-medíocre é o ódio às políticas públicas, às universidades que, na visão distorcida dos que odeiam, criaram cotas que facilitaram a entrada dos pobres, negros, nordestinos, a confluência de todas as margens para um lugar não destinado a elas: a mobilidade social. É o ódio tacanho, torpe, que mata e violenta todos os dias – os homossexuais, as mulheres, a juventude negra, as crianças pobres – e que vai num crescendo se formando enquanto avalanche e genocídio.
Quantas pessoas já foram assassinadas no Brasil em 2017? Quantas delas eram negras? E no mundo? Quantas eram imigrantes? Quantas eram mulheres? Quantas eram crianças? Há uma relação muito estreita entre neocapitalismo, racismo, xenofobia e a negação dos excluídos. Declarar guerra aos pobres e aos indesejáveis é o tipo de absurdo que se pauta nas mesmas justificativas sempre utilizadas pelas classes dominantes para punir os considerados fracos e elimináveis: prender, vigiar, negar a existência. E se nada disso der certo – caçá-los com cães, matar e tirar da vista. Nas palavras de Foucault, no clássico Vigiar e Punir:
“Apresentá-los como bem próximos, presentes em toda parte e em toda parte temíveis. É a função do noticiário policial que invade parte da imprensa e começa a ter seus próprios jornais. A notícia policial, por sua redundância cotidiana, torna aceitável o conjunto dos controles judiciários e policiais que vigiam a sociedade.”
É preciso sempre lembrar que esse discurso mata. Dizer no programa de televisão que “bandido bom é bandido morto” mata. Esta semente diária do ódio que nasceu da injustiça social, assim como o desejo de massacre contínuo, a permanente ideia de eliminação do outro, todos esses elementos de ódio vão se tornando parte do nosso cotidiano e, como bem diz Foucault, vão tornando o discurso palatável, aceitável. Os elimináveis são apresentados aqui como parte temível. Eliminar faz parte do jogo que migra do discurso para a banalização da ação. A julgar pelo que vejo neste jogo do fascismo, logo avançaremos uma casa e chegaremos ao “pobre bom é pobre morto”.
Mas de quantos mortos precisamos para fazer uma guerra?
Intolerância. Ódio. Falta de empatia. Fundamentalismo religioso. Homofobia. Machismo e Feminicídio. Radicalismo conservador. Há muito para se refletir sobre esses atos de violência e barbárie. As práticas discursivas da atualidade e o desejo paradoxal de empatia em tempos individualistas, de completa indiferença, além da alienação do outro nos torna testemunhas do estrangulamento do humanismo em mídias públicas.
Vivemos em tempos de cyber-sociedade. Quando algo da natureza do ódio estrutural acontece, como vírus em termos de rapidez e descarte, vai se tornando difícil encontrar, desenvolver qualquer código de compreensão da alteridade. Não falo em ética, algo mais profundo na escala do conhecimento. Falo de discernimento e compreensão, porque é o mínimo que deveria emergir dessa esfera mais à derme do humano. Também não falo em humanismo, outra demanda importante, mas ainda vista pelo conceitual.
Quero falar da compreensão mínima do outro que está na base primeira do viver-com, do conviver. Compreensão como ação cotidiana, a da rotina mais usual entre os seres humanos. A compreensão da palavra, do gesto, da pessoa. Penso nessas relações líquidas, frágeis, instantâneas das novas sociabilidades que giram nas mídias sociais, e vejo o desrespeito total ao que é diferente, linchamentos virtuais e o ódio disseminado através de mensagens viralizadas que só causam mais dor e mais violência. O ódio e o ressentimento sempre existiram, mas a dinâmica das redes sociais ligou os pontos dos extremos, amplificou, tirou do armário os que ainda tinham certo constrangimento de expor o machismo, o fascismo, o racismo, a homofobia, a transfobia, a xenofobia etc.
Culpabilizar o outro por seu isolamento cultural ou social, culpabilizar pela desterritorialização, migração, imigração, exílio é o estopim do que há de pior nas ações de ódio. Quando os fascistas das manifestações se unem aos pseudomoderados do discurso, aqueles que odeiam estruturalmente deixam suas casas e constroem com as próprias mãos novos guetos, outros campos de exclusão e extermínio, outras fronteiras.
Com quantos ódios fazemos uma guerra? Com quantas guerras alimentaremos tanto ódio?